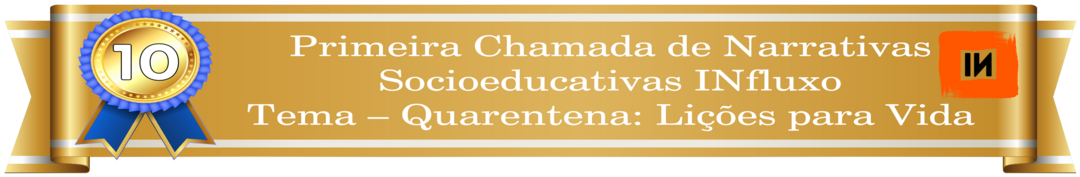 Tânia me telefonou no comecinho de setembro. Poucos dias depois da morte do ator Chadwick Boseman, causada por um câncer do qual ninguém tinha conhecimento. Sou ruim para guardar datas, mas a perda do ídolo acabou com meu fim de semana. Fiquei arrasada. E eu nem podia ficar falando perto do Marcelo, porque ele vinha com aquele ciúme bobo, como se o belo Pantera Negra fosse me querer, até parece. Como se eu não soubesse que há alguns anos ele virou aficionado por tênis só para assistir a Maria Sharapova jogando. Imagine se eu fosse fazer cara feia toda vez que ele ficava se babando, ao vê-la correr de um lado para o outro na quadra com suas pernas compridas. Enfim, tive um sábado deprimente, me escondendo no quarto para evitar Marcelo e suas perguntas, a tristeza pairando pela casa apesar do sol radiante lá fora. E no meio da semana a Tânia ligou.
Tânia me telefonou no comecinho de setembro. Poucos dias depois da morte do ator Chadwick Boseman, causada por um câncer do qual ninguém tinha conhecimento. Sou ruim para guardar datas, mas a perda do ídolo acabou com meu fim de semana. Fiquei arrasada. E eu nem podia ficar falando perto do Marcelo, porque ele vinha com aquele ciúme bobo, como se o belo Pantera Negra fosse me querer, até parece. Como se eu não soubesse que há alguns anos ele virou aficionado por tênis só para assistir a Maria Sharapova jogando. Imagine se eu fosse fazer cara feia toda vez que ele ficava se babando, ao vê-la correr de um lado para o outro na quadra com suas pernas compridas. Enfim, tive um sábado deprimente, me escondendo no quarto para evitar Marcelo e suas perguntas, a tristeza pairando pela casa apesar do sol radiante lá fora. E no meio da semana a Tânia ligou.
Minha mãe acabou de falecer de Covid, contou ela, aos soluços. Quase sem respirar, foi relatando os detalhes. Uma gripe repentina levara dona Marlene para o hospital. A partir de então, o contato presencial da família passou a ser feito através de chamadas de vídeo com a ajuda das enfermeiras – uns amores – porque a senhora de cinquenta e sete anos tinha dificuldade com tecnologia. Com o agravamento do quadro, as chamadas foram se espaçando, ficando mais curtas. Dona Marlene não podia permanecer mais de dois minutos sem o oxigênio. No sexto dia foi levada para a UTI, onde o celular não era permitido, e faleceu quarenta e oito horas depois.
- Eu nem pude me despedir!
- Onde você está? – perguntei, e não tive resposta. Quer que eu vá aí? Está precisando de algo? Nada. Talvez ela nem estivesse me ouvindo. No fim, desabafou: não quero ver ninguém. Não quero falar com ninguém. Só queria mesmo te dar a notícia.
E eu, que sempre me julguei capaz de lidar com a adversidade, me vi novamente a ponto de desmoronar. Precisava fazer alguma coisa. E não encontrava em mim qualquer gesto ou palavra que pudesse amenizar aquela dor infinita.
Cidade pequena é um horror. Muita gente acha que essas coisas não acontecem, que a doença é uma invenção da mídia com finalidades políticas. Em São Paulo tem milhares de casos. Aqui noticiaram menos de seiscentos até agora, com dezoito mortes. Mas eu posso apostar que passam de seis mil. Sei de gente que foi orientada a ficar se tratando em casa, porque não tem testes para todo o mundo.
Dezoito famílias, bem aqui do nosso lado, chorando a dor de uma pessoa amada que se foi de uma forma tão estúpida, sem ter a chance de se despedir. O que vou fazer? O que vou fazer? Nada, responde Marcelo, deitado no sofá, mudando o canal da televisão a toda hora e vendo as notícias no celular ao mesmo tempo. Você não é Deus. Fico irritada: por que ele não vai procurar alguma coisa útil para fazer, em vez de ficar se envenenando com mais tragédias? Se ao menos eu pudesse chorar agora, exaurir o desespero, talvez conseguisse me comunicar com as pessoas sem sentir tanta raiva. E talvez encontrasse uma forma de ajudar Tânia, que não queria me ver.
Passei a maior parte da noite numa espécie de limbo, um estado intermediário entre o sono e a vigília. Tinha uma vaga consciência de estar em minha cama, mas via os sonhos se desenrolando. Ajudei uma idosa na rua – em meus sonhos, não existe o distanciamento social e ninguém está usando máscara – cheguei atrasada ao trabalho, e percebi que estava usando chinelos. Havia um protesto acontecendo, a escada do escritório cheia de gente, e eu não conseguia subir para minha sala. Alguém veio dizer que meu marido estava num hospital. Acordei em pânico. Na penumbra, Marcelo resmungou alguma coisa e voltou a dormir. Saí descalça para o corredor, desorientada, sentindo o chão gelado sob os pés. Enquanto preparava o café, vi o sol nascer da janela da cozinha, com a sensação de impotência que não me deixava mais.
Fazia bem uns dois anos que eu não via a Tânia. Na adolescência fomos muito próximas, eu frequentando a casa dela algumas vezes por semana, porque a minha ficava longe da escola. Me lembro vagamente de dona Marlene servindo pão, fazendo bolinhos de chuva enquanto estudávamos para o vestibular. De quando Tânia fechava a porta do quarto para falarmos de garotos, e interrompia os cochichos apontando para a janela: através dos furos da veneziana fechada, recortava-se uma silhueta pequena e gorducha, ouvindo nossa conversa. Pelos relatos de minha amiga, eu tinha a impressão de que dona Marlene era severa. De suas feições, lembro-me das sobrancelhas muito finas, nada mais que um par de riscos que se perdiam no rosto redondo. Estaria ela feliz ou apreensiva com os planos da filha de estudar em outra cidade? Em nosso universo particular, havia pouco espaço para os sentimentos dos mais velhos.
Mais tarde, na faculdade, Tânia e eu dividimos uma quitinete. Às vezes era difícil conciliar os hábitos: no espaço restrito de trinta metros, pequenas coisas se tornavam grandes. Como é que você tem tanta disposição, perguntava ela. Eu odeio quando tem aula cedo, fico sonolenta o dia todo. Mas também, Tânia, você só come porcarias. De manhã café preto, à noite pão com queijo e presunto porque arroz com feijão engorda. E o pão faz o quê?
Nas noites de sexta-feira, sem dinheiro para sair, fazíamos batidas de vodka com morango e trocávamos as mais absurdas confidências ouvindo Linkin Park. Depois dormíamos no ônibus, exaustas, voltando para a casa dos pais nos sábados de manhã.
Quase não me lembro como, mas fui me enchendo. Tânia costumava reclamar que a mãe tinha mania de limpeza, que brigava com ela por causa de um mísero fio de cabelo que ficasse na pia. Como se fosse só um fio de cabelo. Ela se penteava correndo, sempre atrasada, e os fios se espalhavam pelo minúsculo banheiro do apartamento. Aí eu tinha que arrancar aqueles tufos do ralo com uma pinça. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Por associação, fui criando repulsa pelo perfume doce que ela usava e que impregnava todas as peças de roupa, o sofá, a cama, o tapete do banheiro.
No meio de tudo isso, Tânia conheceu o futuro marido. Em alguns meses se mudou para o apartamento dele, graças a Deus, como era bom ficar no meu cantinho, sem aquele cheiro pegajoso de cana de açúcar. Quando engravidou, abandonou os estudos de vez e veio morar perto dos pais. A filha dela devia ter o quê? Dezoito, dezenove anos, é difícil de acreditar. Nesse período tivemos pouco contato, a não ser um ou outro encontro casual no supermercado ou na fila do banco. No entanto eu pensava nela com carinho, recordando mais as confidências regadas a vodka que os cabelos na pia. Qualquer dia, dizia ela, precisamos nos reunir para jantar, talvez comer uma pizza, relembrar os velhos tempos. Mas esse dia ficava no ar, uma vaga promessa em nossos contatos nas redes sociais. E o tempo passava.
Tânia estava divorciada. Voltara a morar com a mãe, e eu tinha ouvido falar que viviam em pé de guerra. Minha mãe tem mania de limpeza, reclamava ela, é uma pessoa difícil para se conviver. Eu tinha vontade de responder: e você não é?
Cidade pequena é um horror. Todo o mundo conhecia a família de Tânia, e as fofocas se alastravam. Será que agora o pai iria assumir de vez a amante, um caso de muitos anos, do qual todo mundo sabia menos dona Marlene? Isso me enfurecia: por que não deixam as pessoas em paz? Liguei para Tânia um monte de vezes na semana. Você está bem? Não. Quer que eu vá aí? Não. Precisa de alguma coisa? Não. Se precisar conte comigo, me ligue a qualquer hora do dia ou da noite. Tá bom, pode deixar. Eu sabia que ela não iria ligar. Precisava respeitar o seu espaço, mas me preocupava. Marcelo não tinha a menor compaixão: ué, não era ela que vivia reclamando da mãe? Eu nem me dava ao trabalho de responder que ele também reclamava da sua, mas nem por isso queria que ela morresse.
Nas ruas, a caminho do trabalho, eu via o povo sem máscaras, formando rodinhas na praça, jogando conversa fora. A revolta que me dava era tão grande que a queimação no estômago subia para a garganta: vocês estão loucos? Eu tinha vontade de gritar: a mãe de minha amiga acabou de morrer, e vocês achando que é brincadeira. Tinha só cinquenta e sete anos, não precisava ter morrido dessa maneira horrível, quantas vidas serão perdidas até que vocês tenham consciência? A escalada de tensão implodia minha capacidade de ternura, e as lágrimas redentoras não vinham.
É desumano. Durante os oito dias que dona Marlene passou no hospital, ninguém da família pôde vê-la. Dói pensar que a Tânia não pôde vestir a mãe com uma roupa bonita, que ela foi enterrada num saco plástico fechado e não teve velório. É desumano falar com Tânia por telefone, não ir à casa dela e nem lhe dar um abraço – você está louca, perguntava Marcelo, e se ela pegou a doença? A bem da verdade, eu nem tinha certeza se ela continuava morando na mesma casa. Em nossas várias conversas, me esquecera de perguntar algo tão básico.
E mais desumano ainda, monstruoso mesmo, fico até com raiva de mim mesma mas preciso ser absolutamente sincera, é a forma como o tempo amortece os sentimentos. Como Tânia e sua mãe foram aos poucos se tornando personagens na novela de minhas memórias. E se distanciaram tanto, mas tanto, que chorei menos por elas que pelo Chadwick Boseman, que eu nem conheci.

