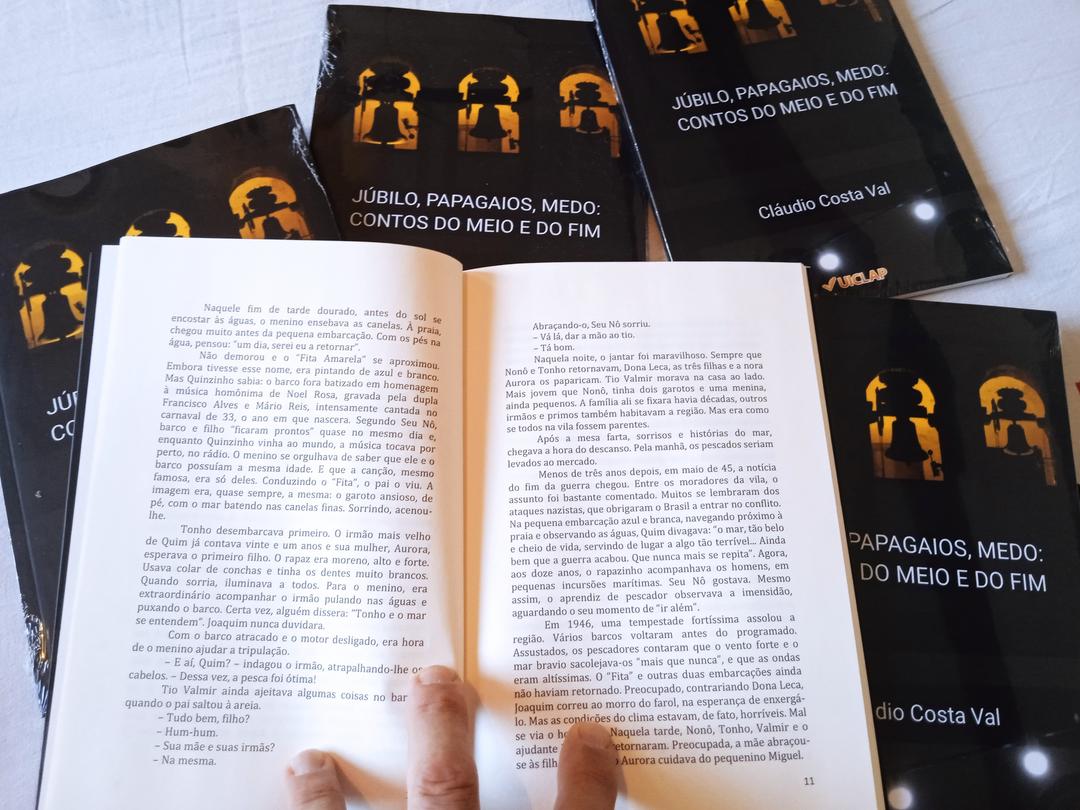O pequeno Joaquim se
acelerava na rua de terra. Precisava chegar rapidamente à praia, onde
reencontraria o pai, o irmão mais velho e o tio. Pescadores em sua quarta
geração, a família Pereira vivia do mar.
O menino tinha nove
anos e esperava o seu momento de irromper as águas. Seu Agenor lhe prometera,
mas Quim sabia que ainda precisaria crescer um bocado, para embarcar com o pai,
rumo ao alto mar.
Corria o ano de 1942.
Três meses antes, em agosto, o Brasil declarara guerra à Alemanha e à Itália,
depois que o submarinho nazista U-507 abateu navios na costa brasileira, do
Sergipe até ali, na pacata Morro de São Paulo. A vila baiana se assustara: em
frente à Primeira Praia, souberam de dois afundamentos. Desde então, o receio
fazia parte do cotidiano dos moradores. Nas primeiras semanas que se seguiram
aos ataques, os pescadores evitaram as águas. Mas, agora, com o ano próximo do
fim, a rotina voltara ao normal.
Quim sonhava em navegar
e ajudar o Seu Nô. Pescador veterano, experiente, aprendera o ofício com o avô
e o pai, e o transmitira aos filhos. Dias ao mar, outros em terra – era assim a
vida do generoso e dedicado Nonô. O caçula Quinzinho o amava. Do ponto mais
alto da vila, próximo ao farol, seus olhinhos encantados contemplavam a
imensidão azul. Inúmeras vezes o vira partir, e se acostumara: bastava contar
os dias, olhar o horizonte, observar a posição do astro-rei, sentir o vento.
Não dava outra: ao longe, reparava o barco surgindo: “o pai tá voltando”.
Naquele fim de tarde
dourado, antes do sol se encostar às águas, o menino ensebava as canelas. À
praia, chegou muito antes da pequena embarcação. Com os pés na água, pensou:
“um dia, serei eu a retornar”.
Não demorou e o “Fita
Amarela” se aproximou. Embora tivesse esse nome, era pintando de azul e branco.
Mas Quinzinho sabia: o barco fora batizado em homenagem à música homônima de
Noel Rosa, gravada pela dupla Francisco Alves e Mário Reis, intensamente
cantada no carnaval de 33, o ano em que nascera. Segundo Seu Nô, barco e filho
“ficaram prontos” quase no mesmo dia e, enquanto Quinzinho vinha ao mundo, a
música tocava por perto, no rádio. O menino se orgulhava de saber que ele e o
barco possuíam a mesma idade. E que a canção, mesmo famosa, era só deles.
Conduzindo o “Fita”, o pai o viu. A imagem era, quase sempre, a mesma: o garoto
ansioso, de pé, com o mar batendo nas canelas finas. Sorrindo, acenou-lhe.
Tonho desembarcava
primeiro. O irmão mais velho de Quim já contava vinte e um anos e sua mulher,
Aurora, esperava o primeiro filho. O rapaz era moreno, alto e forte. Usava
colar de conchas e tinha os dentes muito brancos. Quando sorria, iluminava a
todos. Para o menino, era extraordinário acompanhar o irmão pulando nas águas e
puxando o barco. Certa vez, alguém dissera: “Tonho e o mar se entendem”. Joaquim
nunca duvidara.
Com o barco atracado e
o motor desligado, era hora de o menino ajudar a tripulação.
– E aí, Quim? – indagou
o irmão, atrapalhando-lhe os cabelos. – Dessa vez, a pesca foi ótima!
Tio Valmir ainda
ajeitava algumas coisas no barco, quando o pai saltou à areia.
– Tudo bem, filho?
– Hum-hum.
– Sua mãe e suas irmãs?
– Na mesma.
Abraçando-o, Seu Nô
sorriu.
– Vá lá, dar a mão ao
tio.
– Tá bom.
Naquela noite, o jantar
foi maravilhoso. Sempre que Nonô e Tonho retornavam, Dona Leca, as três filhas
e a nora Aurora os paparicam. Tio Valmir morava na casa ao lado. Mais jovem que
Nonô, tinha dois garotos e uma menina, ainda pequenos. A família ali se fixara
havia décadas, outros irmãos e primos também habitavam a região. Mas era como
se todos na vila fossem parentes.
Após a mesa farta,
sorrisos e histórias do mar, chegava a hora do descanso. Pela manhã, os
pescados seriam levados ao mercado.
Menos de três anos
depois, em maio de 45, a notícia do fim da guerra chegou. Entre os moradores da
vila, o assunto foi bastante comentado. Muitos se lembraram dos ataques
nazistas, que obrigaram o Brasil a entrar no conflito. Na pequena embarcação
azul e branca, navegando próximo à praia e observando as águas, Quim divagava:
“o mar, tão belo e cheio de vida, servindo de lugar a algo tão terrível...
Ainda bem que a guerra acabou. Que nunca mais se repita”. Agora, aos doze anos,
o rapazinho acompanhava os homens, em pequenas incursões marítimas. Seu Nô
gostava. Mesmo assim, o aprendiz de pescador observava a imensidão, aguardando
o seu momento de “ir além”.
Em 1946, uma tempestade
fortíssima assolou a região. Vários barcos voltaram antes do programado. Assustados,
os pescadores contaram que o vento forte e o mar bravio sacolejava-os “mais que
nunca”, e que as ondas eram altíssimas. O “Fita” e outras duas embarcações
ainda não haviam retornado. Preocupado, contrariando Dona Leca, Joaquim correu
ao morro do farol, na esperança de enxergá-lo. Mas as condições do clima
estavam, de fato, horríveis. Mal se via o horizonte. Naquela tarde, Nonô,
Tonho, Valmir e o ajudante Lúcio não retornaram. Preocupada, a mãe abraçou-se
às filhas, enquanto Aurora cuidava do pequenino Miguel.
Na manhã seguinte, com
os primeiros raios de sol, vários barqueiros lançaram-se ao mar, na esperança
de encontrar os companheiros. Talvez, avarias tivessem prejudicado a
navegabilidade das embarcações. Poderiam estar em apuros. A Capitania dos Portos
fora avisada. Os parentes dos pescadores acreditavam que, logo, notícias
chegariam.
Quatro dias se
passaram, sem que qualquer novidade surgisse. Diariamente, os barqueiros
solidários partiam, e só retornavam ao fim da tarde. Dona Leca não parava de orar,
pedindo o retorno do filho e do marido. Ao meio da tarde, notícias chegaram: a
Marinha encontrara um homem à deriva, agarrado a um pedaço de madeira.
Debilitado, o sobrevivente fora levado ao hospital, onde se recuperava. Não
demorou para que soubessem que se tratava de Tonho. Abraçada a Miguelzinho,
Aurora se debulhou em lágrimas: “o papai tá vivo, meu filho!... O papai
voltou!”. Para a família, a informação teve sabor ambíguo: havia o alívio, por
saber que o primogênito sobrevivera, e existia a tristeza, pela confirmação de
que algo terrível acontecera. Onde estaria Nonô?
Dois dias depois, Tonho
apareceu. Tinha os lábios ressecados e rachados, estava tomado por olheiras
profundas. Emagrecera. Toda a vila se reuniu para recebê-lo. Aos parentes e
amigos, contou que a tempestade fora tão forte, e que o mar ficara tão
violento, que o “Fita Amarela” partiu-se ao meio. O céu escurecera. Os
tripulantes foram jogados ao mar. Tonho procurou pelo pai, tio e amigo, mas não
os encontrou. Amedrontado, agarrou-se ao primeiro destroço que viu. Sobreviveu
às ondas e esperou. Certamente, sua boa saúde o fez resistir tantos dias, sem
água potável e comida. “Tonho e o mar se entendem”, lembrou-se Joaquim.
Passaram-se vinte e
quatro horas e dois homens, de outra embarcação, também foram resgatados.
Estavam em estado bem pior que Tonho. No relato, a mesma coisa: a tempestade
rapidamente os levara a pique.
E foram apenas os três.
Ninguém mais foi encontrado. Nonô, Valmir, o jovem Lúcio e outros cinco
pescadores foram declarados mortos. As famílias se devastaram. Embora soubessem
dos riscos, ninguém esperava por tamanha tragédia. Tentando honrá-los, Irineu,
o decano da vila, concluiu: “homens do mar devem morrer no mar”.
Os anos se passaram. O
sofrimento e a ausência do pai aceleraram o amadurecimento de Joaquim. Mantendo
a tradição, o rapaz seguiu o oficio dos antecessores. Adquiriu o seu barco,
batizou-o de “Nonô e Valmir”. Casou-se, teve quatro filhos. Sempre que
navegava, vinha-lhe a certeza: “em tudo que fazemos, o perigo está presente.
Mas a água é vida. É esperança. É o que faz este planeta ser o que é. Enquanto
existir o mar, os homens sobreviverão. Devemos temê-lo e, ao mesmo tempo,
amá-lo”.
Em 2022, ao completar
oitenta e nove primaveras, o velho Joaquim se orgulhava da vida que escolhera.
Das águas, extraíra o sustento da família.
Acomodado à pequena
varanda, observava o horizonte e se fixava nas variações do azul. Pensava em
como o mundo se transformara. E como se mantivera firme em seu propósito. A
casa da infância não mais existia. Outra fora construíra, a poucos metros de
distância, defronte o mar. Cercado pela esposa, filhos, dez netos e quatro
bisnetos, o velho pediu:
– Marcelino?
– O que é, vô?
– Esse seu aparelho novo
toca música?
– É claro, vô. Todos
tocam!
– Põe aquela aí, pra
mim.
– Beleza!
Em instantes, com
algumas mexidas na tela do celular, Marcelino fez com que “Fita Amarela”
soasse. O velho suspirou. Deixou que a canção do Noel lhe ocupasse a mente, o
corpo, a alma. Contemplou o mar. Levantou-se. Lentamente, sob os olhares dos
parentes, seguiu em direção à praia.
– Aonde o senhor vai,
vô?
Joaquim não respondeu.
Atravessou a rua, caminhou pela areia, aproximou-se do mar. Colocou as
sandálias de lado. Três passos bastaram, para que a água lhe batesse ao meio da
canela. Fechou os olhos. Mergulhando no tempo, viu-se criança, feliz,
observando o pai lhe acenando, enquanto Tonho atracava o “Fita Amarela” na
areia. “Mesmo com todas as dores, como a vida é simples e bela!”, concluiu.
* Menção no XVIII Concurso Nacional de Contos "Prêmio Jorge Andrade" (2020).
** Conto integrante do livro “Júbilo, papagaios, medo: contos do meio e do fim” (Editora Uiclap, 2023).